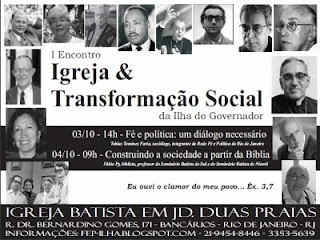Introdução
As comunidades eclesiais de base (CEBs) constituem uma das experiências mais significativas e ricas oferecidas pela igreja latino-americana à igreja universal. Quando o papa Paulo VI ao final do sínodo sobre a evangelização no mundo de hoje (1974) referiu-se às CEBs como uma esperança para toda a igreja, estava certamente convencido do valor da experiência como lugar privilegiado de evangelização. Este novo modo de ser igreja que vem se afirmando no continente e sobretudo no Brasil traduz um grande dinâmismo, revelando facetas singulares de uma igreja comprometida com a afirmação da vida e com a causa dos pobres. No início da década de 80, o teólogo Karl Rahner lamentava a situação de inverno na igreja, mas já acenava para a presença alternativa do cristianismo que pulsava na América Latina, marcado pelo empenho e testemunho: uma experiência “rica de grandes esperanças”. De fato, a experiência das CEBs favoreceu a gênese de um novo rosto de igreja, caracterizado pelos traços da comunhão, compromisso e participação e pontuado pela dinâmica do seguimento de Jesus Cristo. Ao longo destes quarenta anos de caminhada, as CEBs do Brasil têm sinalizado o imperativo essencial da opção pelos pobres e de seu direito de cidadania na sociedade e na igreja. Trata-se de uma convocação dirigida a todo o povo de Deus, no sentido de caminhar na perspectiva da igreja dos pobres: todos são chamados a viver com intensidade a perspectiva de comunhão fraterna e a integração da fé com a história a partir de sua realidade vital. Durante o seu itinerário, as CEBs foram acumulando experiência e enfrentando novos desafios, assim como incompreensões e resistências. Talvez a maior riqueza deste evento eclesial encontra-se na sua potencialidade dialogal e na sua capacidade de gênese permanente, que indica sua disponibilidade de abertura aos novos horizontes que vão se apresentando ao longo da história.
Mesmo não sendo possível encontrar uma definição única e abrangente da experiência em curso, alguns de seus traços característicos podem ser delineados: a localidade (já que as comunidades reúnem membros de uma mesma territorialidade), a presença da bíblia e o culto regular, a dinâmica participativa e os serviços ministeriais assumidos pelos leigos, o compromisso com os pobres e a relação motora entre fé e vida. Um traço essencial na constituição da identidade das CEBs, que confere pertinência à experiência, é a dimensão de eclesialidade: CEBs como um novo jeito de ser igreja. O que configura, porém, novidade de “eclesiogênese” às CEBs é o novo modo de viver esta eclesialidade, sintonizada com o compromisso efetivo com os pobres e mais excluídos e o seu projeto de libertação integral.
- Uma história de fé e vida
As CEBs no Brasil nasceram no contexto da rica fermentação popular que marcou o início da década de 60. Neste período, o contexto sócio-cultural e eclesial nacional foi pontuado pela presença viva de movimentos como a Ação Católica (em especial a Juventude Universitária Católica, Juventude Estudantil Católica e Juventude Operária Católica) e o Movimento de Educação de Base (MEB). Tais movimentos lançaram as primeiras sementes de uma compreensão crítica do evangelho e da incidência da fé na história. Criaram as condições para a redefinição da atuação crítica dos cristãos no interior da igreja e da sociedade brasileira, apontando questões-chaves que prenunciaram e anteciparam os temas que emergiriam em seguida com a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. O golpe militar de 1964 e seus desdobramentos posteriores bloqueou este processo, mas não impediu a dinâmica de rearticulação da pastoral popular na periferia das grandes cidades e no âmbito rural. As CEBs nascem nesta difícil conjuntura política, nas áreas sociais mais carentes, como pequena “flor sem defesa”, de forma simples e despojada, suscitando a afirmação da palavra dos pobres e excluídos a partir da reflexão bíblica. Da conjuntura eclesial mais ampla vinha a motivação decisiva. Vivia-se o clima primaveril do pós-concílio, secundado em seguida pelos novos desafios da Conferência de Medellín (1968).
É difícil precisar com exatidão o momento de eclosão das primeiras experiências que deram propriamente início às CEBs. Já a própria definição de CEBs é sujeita a interpretações não homogêneas, o que torna ainda mais complexa a tarefa de determinação de sua gênese. Alguns germes e sinais da experiência são apontados já no final dos anos 50. Entretanto, pode-se afirmar que foi mesmo a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965), e no contexto do amplo movimento popular que sacudiu o Brasil na década de 60, que a experiência ganhou foro de cidadania. Conforme a indicação dos diversos relatórios elaborados em função dos encontros intereclesiais de CEBs no Brasil, constata-se que o processo forte da irradiação das CEBs no país veio no bojo de todo o contexto de renovação religiosa propiciado pelo Vaticano II. No restante da América Latina, as CEBs ( denominadas comunidades cristianas de base) surgiram um pouco mais tarde, incentivadas pelo clima eclesial que se seguiu à Conferência de Medellín e posteriormente confirmado no encontro de Puebla (1979). As CEBs ganharão também força expressiva em outros países, além do Brasil, como México, Equador, Nicaragua, El Salvador, Chile, Peru e Paraguai.
A partir dos anos 70, a experiência das CEBs irradia-se por todo o Brasil, vivendo um momento de grande vitalidade. Pela força do testemunho e exemplo muitas experiências passaram a ser difundidas, e estavam garantidas pela radicalidade evangélica. Buscava-se uma igreja renovada, que pudesse assumir os problemas, as dificuldades e as alegrias dos empobrecidos: uma comunidade adulta, comprometida com Jesus Cristo, mas igualmente com o povo e a sua libertação; uma comunidade animada pelo Espírito e marcada pela vida de comunhão e de ajuda fraterna. Neste período surgem os encontros intereclesiais de CEBs, que foram fundamentais para o amadurecimento e incremento da experiência. Este encontros, iniciados no Brasil em 1975, visavam a partilha das experiências, da vida e reflexão presentes nas comunidades espalhadas pelo imenso pais. Tais eventos foram se afirmando desde então como espaços privilegiados de encontro dos animadores e agentes de pastoral das comunidades, mas sobretudo como importantes estruturas de apoio, animação da vida e de reforço da consciência de eclesialidade das comunidades.
Durante a década de 80 as CEBs brasileiras estarão diante de uma série de interpelações, relacionadas às mudanças de conjuntura que ocorreram tanto no campo político como eclesial. Um dos temas centrais neste período relaciona-se à questão da identidade eclesial das CEBs . Os novos ventos da conjuntura eclesiástica internacional não sopravam mais a favor da experiência em curso. Inaugurava-se um tempo de “restauração” na igreja católica, com repercussões dolorosas para toda a pastoral libertadora latino-americana, e as CEBs em particular. A lógica do movimento centralizador assumido por Roma a partir deste período deixará rastros na igreja brasileira. As experiências mais inovadoras estarão no centro das atenções, das críticas e incompreensões. Em muitos casos, as CEBs serão o alvo predileto dos ataques, mas visava-se sobretudo o processo de evangelização em curso no Brasil e sua crítica contundente das injustiças sociais. As resistências e ataques impetrados visavam obstruir ou eclipsar a igreja brasileira, que neste período emergia como uma igreja criativa e profética aos olhos dos demais países. As dificuldades e incompreensões foram crescendo em ritmo proporcional à dinâmica de centralização e uniformidade do modelo eclesiástico vigente.
A partir do final dos anos 80, novos horizontes e desafios foram despontando e ampliando o campo de interesse das comunidades, como os temas da cultura, etnia, gênero, subjetividade, ecologia, espiritualidade, ecumenismo, diálogo inter-religioso etc. São temas complexos que vão ampliando sua visão, exigindo nova reflexão e disponibilidade, mas que se inserem dialeticamente, sem ruptura, na dinâmica das opções irrenunciáveis que traduzem o universo das CEBs. A ampliação de horizontes não significou uma perda de vitalidade das comunidades, estas continuam “vivas e a caminho”. A dureza e a conflitividade que acompanham o avanço neoliberal, bem como a retração eclesiástica, podem provocar aqui ou ali uma certa “desaceleração”, mas isto não significa uma perda de vitalidade da experiência. Os diversos encontros regionais das CEBs e os relatos divulgados pelos animadores de todo o Brasil manifestam a presença de um dinamismo real, só captado por aqueles que acompanham de perto a experiência e que acreditam na força de sua espiritualidade.
- A dinâmica interna de organização e funcionamento
Nas comunidades eclesiais de base percebe-se nitidamente a reconquista de um espaço popular de religião. Instauram-se condições reais de reconstituição do tecido humano e social, num clima de solidariedade e partilha. Nasce um novo estilo de relacionamento entre os pobres, que começam a se reunir, à luz da Palavra de Deus, para pensar, falar e agir. O relacionamento ativa um potencial que é gerador de práticas efetivas de transformação. Constrói-se comunitariamente com as CEBs o espaço de emergência de uma nova cultura e de uma nova prática das camadas populares.
Um dos elementos mais significativas no histórico da experiência das CEBs é o processo de construção da identidade dos pobres. As comunidades no Brasil nasceram num período de forte repressão à palavra. Apesar de todo o clima sombrio e adverso, as CEBs conseguiram, mediante artimanhas singulares de resistência e luta, favorecer a afirmação da cidadania dos pobres como sujeitos sociais e eclesiais. Na sua peculiar dinâmica organizacional as pequenas comunidades abriram o espaço para a irrupção da palavra e instauraram o caminho para a expressão e a “fala do desejo”. Segundo a antropóloga Carmen Cinira Macedo, “as reuniões tornam-se jogos de espelhos: todos se vêem uns aos outros como imersos num grande não. A sociedade lhes nega exatamente o que lhes acena como condição para a dignidade, para se perceberem como gente”. É aqui que entram em cena os agentes de pastoral, favorecendo um clima de acolhida e permitindo o aflorar das angústias coletivas. Eles atuam como dinamizadores e articuladores da “efervescência de emoções e idéias” que brotam da dor de um sentimento de exclusão. A partir da fala dos oprimidos, acenam “com uma perspectiva de libertação mediada pela tomada de consciência coletiva, calada na releitura dos textos e da mensagem sagrada. É o processo de reconhecimento do nós. São novas palavras de ordem, novas promessas, a perspectiva da chegada do Reino”. Trata-se de um trabalho pioneiro, sempre articulado e permeado pelo saber popular dos animadores e participantes das comunidades. Estes agentes sentem-se tocados pelo chamado da missão libertadora e facultam pedagogicamente o clima propício para a irrupção histórica dos pobres, de sua palavra e de sua ação crítica visando a solução de seus problemas. Toda esta dinâmica interna constitui uma iniciativa singular de rompimento do isolamento forçado e condição de possibilidade para uma nova cidadania. Um dos traços mais salientados nos cantos das comunidades é a força e o elã vital que expressam a descoberta deste novo olhar: “De repente nossa vista clareou, descobrimos que o pobre tem valor”. Os participantes afirmam que “passaram a enxergar”, uma forma particular de expressar a eclosão e o desenvolvimento de uma nova consciência, que os transformou em sujeitos e que será fundamental para a transformação de seu mundo. A experiência de comunidade possibilita também o despertar de uma dignidade até então eclipsada. Uma experiência vivida como enriquecimento pessoal: uma intensificação da qualidade de ser sujeito. Juntamente com a afirmação de sua dignidade humana, os pobres nas CEBs vão percebendo a importância da dimensão comunitária. A comunidade emerge como espaço de reconstituição do tecido humano e social numa sociedade marcada pela tessitura dissociativa. A comunidade gera um clima de troca (partilha), afetividade, reconhecimento, convivência, sociabiliadade e solidariedade. Clima este que confere identidade ao grupo e que é base fundamental para a emergência de uma consciência crítica. Os pobres em comunidade verificam que são comuns os problemas que os afligem, que todos têm o mesmo valor e merecem o mesmo respeito (experiência da igualdade na carência comum).
É a partir desta percepção combinada da dignidade humana do sujeito e de uma carência coletiva, reforçada pela dinâmica evangélica de viver os valores do Reino, que vão se desdobrando as práticas efetivas em favor das transformações sociais. Não se pode relegar em todo este processo dinâmico de construção da cidadania dos pobres nas CEBs, um dado fundamental que é a dimensão da fé. Trata-se de um elemento essencial na conformação de seu universo motivacional. Daí ser necessário desenvolver um pouco mais pormenorizadamente o significado eclesial desta experiência.
- Um novo modo de ser igreja
O novo modo de ser igreja nas CEBs representa para seus participantes uma mudança significativa no campo da experiência religiosa. Pode-se falar com pertinência em conversão, enquanto mudança acentuada na maneira pessoal e coletiva de se viver a experiência da própria religião. A modalidade da figura do convertido nas CEBs diferencia-se de outras duas modalidades identificadas com o fenômeno, ou seja, do convertido como aquele que muda de religião, ou aquele que descobre uma religião sem jamais ter pertencido a nenhuma. O caso das CEBs evidencia a trajetória de indivíduos que se reafiliam a uma mesma tradição, que redescobrem uma nova identidade religiosa, até então mantida formalmente. A inserção nas CEBs significa para seus membros a entrada num “regime forte de intensidade religiosa”, que provoca em âmbito vital uma reorganização ética e espiritual.
Os participantes das comunidades passam a compartilhar de uma nova identidade, reorganizam seu “aparelho de conversa” sob novas bases. Como traço substancial da nova internalização favorecida pelas CEBs encontra-se uma relação distinta com o sagrado, que implica agora a centralidade da conscientização, um novo compromisso ético e político e a ênfase na participação em lutas populares. O sentimento de pertença à comunidade traz consigo uma nova visão de mundo, uma nova simbologia e outras práticas coletivas. Aderir à caminhada é identificar-se com um novo modo de ser católico que pressupõe coerência e compromisso ético e social no projeto de afirmação da vida.
No processo de mudança que envolve a nova perspectiva eclesial ocorrem transformações significativas, o que pode ser exemplificado na dinâmica de participação. As CEBs instauram novas formas de participação dos leigos na vida de fé, nos serviços e na organização da comunidade. Eles passam a se sentir sujeitos eclesiais, rompendo o anterior “monopólio clerical” de poder, e assumem com responsabilidade os diversos serviços que vão brotando das necessidades históricas. Vale destacar a presença substantiva das mulheres, cuja participação e visibilidade nas CEBs é irradiante e fundamental, atuando em todos os campos da experiência. Pesquisas realizadas nos anos 80/90 no Brasil com dioceses envolvendo experiências de CEBs revelaram, porém, que esta dinâmica participativa encontra limites bem definidos, que sinalizam a fragilidade institucional das comunidades. Constata-se a carência de mecanismos que favoreçam a influência de decisão dos leigos em âmbito mais amplo que o meramente local.
Esta participação não se restringe ao campo eclesial, mas desdobra-se no empenho na sociedade. As CEBs sublinham como essencial o vínculo que articula o seguimento de Jesus com a luta em favor da transformação da sociedade. O critério da humanização é decisivo na práxis das CEBs e em sua forma de compreender o valor da experiência religiosa. As comunidades sempre pontuaram a centralidade do testemunho em favor do Reino de Deus, que passa necessariamente pela afirmação de vida dos pequenos e excluídos. A abertura ao social constitui um traço congênito das CEBs. Esta disposição e exigência nasce da própria relação motora entre fé e vida presente na hermenêutica bíblica popular vigente nas comunidades. Em conseqüência deste compromisso, não poucos animadores e agentes das CEBs sofreram a experiência do martírio. Esta atestada “prática martirial” presente nas CEBs constitui expressão da radicalidade evangélica que vem marcando a experiência desde seus primórdios. E estes mártires estão vivos na memória das CEBs: em suas celebrações, nas palavras, nas relíquias e tantos outros símbolos que adornam as casas, as roupas e os templos de seus membros. Como sublinha Dom Pedro Casaldáliga, “um povo ou uma igreja que se esquecem de seus mártires não merecem sobreviver”.
- A centralidada da Bíblia
Um elemento que se destaca em todas as reflexões pertinentes sobre as CEBs é o lugar conferido à Bíblia nas experiência das comunidades. Ela constitui o “núcleo fundante” das CEBs, o elemento identificador de sua eclesialidade. Trata-se da base de sustentação e vitalidade das comunidades, do núcleo conformador do universo motivacional dos empobrecidos. Foi a partir da reflexão bíblica que as primeiras comunidades de base emergiram, com os círculos bíblicos ou os grupos de evangelho, nos anos 60, e esta referência fundamental continuou acompanhando toda a trajetória comunitária.
Com as CEBs instaura-se uma nova hermenêutica bíblica, propiciadora de uma leitura libertadora da Palavra de Deus. Trata-se de uma interpretação dinamizada pela opção em favor dos pobres, que traduz uma íntima ligação da Palavra com a vida do povo. A leitura bíblica vem enriquecida pelo con-texto da comunidade e pelo pre-texto da realidade. O resultado é sempre novidadeiro e mobilizador. Os problemas reais que afetam a vida do povo ganham uma nova iluminação pela Palavra, que lida em comunidade, suscita sentido e orientação na caminhada. Com a nova perspectiva, os pobres passam a reconhecer na Bíblia um livro familiar, que reflete como espelho a sua própria realidade; e reapropriam-se desta palavra que passa a significar para eles fonte de animação e vida. Nos últimos anos, as CEBs tem enriquecido a sua leitura popular com o aprofundamento da dimensão orante da Palavra: a Bíblia torna-se matéria de oração e de aprofundamento da espiritualidade. Ao lado da postura de familiaridade com a Palavra, aprofunda-se sua dimensão de gratuidade e de alteridade.
Com base na reflexão bíblica, as CEBs possibilitam uma espiritualidade integradora, identificada como espiritualidade do seguimento de Jesus. Trata-se de uma experiência espiritual animada pela relação dinâmica de três elementos: de inserção no mundo, de compromisso com os empobrecidos e de proximidade com o Senhor da história; uma experiência que envolve simultaneamente a consciência da presença de Cristo no irmão pobre e a abertura à gratuidade do mistério de Deus, que faculta uma presença mais decisiva e despojada no âmbito da história. Esta espiritualidade integradora tem suscitado alguns importantes desdobramentos, entre os quais a retomada da dimensão gratuita e orante. Sobretudo a partir da segunda metade dos anos 80, aprofunda-se a consciência da necessidade e importância do aprofundamento da vivência comunitária e pessoal do seguimento como proximidade do Senhor. Proximidade que convoca à experiência da gratuidade, que constitiu o clima que invade e banha a trajetória de solidariedade com os irmãos. Há um sentimento presente e crescente entre os participantes das comunidades, sintonizado com a demanda e aprofundamento da espiritualidade: de que a prática pastoral libertadora deve estar enraizada e sustentada na vida de oração. Com respeito à leitura da bíblia, vivamente presente nas comunidades, tem-se enfatizado a importância de um envolvimento mais orante, de forma que ela possa ser também saboreada com mais doçura e profundidade, enquanto palavra viva de Deus. Outro desdobramento diz respeito à retomada do valor da subjetividade. Para além da lógica de produtividade e eficácia, tão enfatizadas no tempo atual, as comunidades têm buscado garantir um espaço especial para o trabalho da dimensão pessoal da fé e para a intensificação da experiência de comunidade. Trata-se de um canal fundamental para garantir o equilíbrio entre as dimensões política e mística da fé. No mesmo movimento de percepção da singularidade da experiência de “proximidade”, as CEBs têm redescoberto a afetividade como um valor essencial da vida comunitária, que tece as redes primárias de sustentação da identidade de seus participantes. Busca-se assim realizar o compromisso essencial com a causa da vida e a opção pelos empobrecidos sem se negligenciar a dimensão e os direitos da subjetividade.
- Radiografia atual e perspectivas
Para determinados setores da mídia e da intelectualidade, as CEBs estariam hoje vivendo uma situação de esgotamento e crise. No caso brasileiro, o argumento normalmente utilizado para explicar tal “refluxo” refere-se ao crescimento dos núcleos pentecostais evangélicos e a irradiação da renovação carismática católica. De fato, há que reconhecer que o crescimento das vertentes pentecostais evangélicas tem provocado uma mudança no campo religioso brasileiro, com incidência no enfraquecimento do “caráter de definidor hegemônico da verdade e da identidade institucional” tradicionalmente assumido pela igreja católica. Os dados estatísticos apresentados no último recenseamento demográfico do Brasil, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – 2000) indicam um declínio progressivo da porcentagem de católico-romanos na população brasileira. O número de pessoas que se declararam católicos ficou em torno de 73,9% da população, o que equivale aproximadamente a 125,5 milhões de brasileiros. Por sua vez, há um crescimento substantivo dos evangélicos, sobretudo pentecostais, em torno de 15,45% dos declarantes brasileiros. Os evangélicos pentecostais mais do que dobram a cada década no país. Vale ainda registrar o crescimento daqueles que se declaram “sem religião”, que somam 7,3% da população geral. Esta última categoria não expressa, ipso facto, o aumento de ateus, pois uma significativa parcela dos que se declaram desta forma manifestam sua crença em Deus ou em forças transcendentes, ainda que não se sintam pertencendo a uma comunidade confessional. O que está indicado neste quadro, segundo os observadores, é um enfraquecimento das religiões como instituições.
Ao estar inserida neste campo de progressiva pluralização religiosa, as CEBs deparam-se com esta questão do crescimento pentecostal. A relação das CEBs com os pentecostais não está desprovida de tensões ou conflitos localizados. Mas em geral, a afirmação pentecostal vem percebida não necessariamente como uma ameaça para as CEBs, mas como um desafio para o seu processo de inserção no mundo religioso plural e a ampliação de sua acolhida ecumênica e inter-religiosa. Este tema complexo, difícil e fundamental tem aparecido de forma viva nos últimos intereclesiais de CEBs. Durante o IX intereclesial, realizado na cidade de São Luis do Maranhão, no nordeste brasileiro (1997), um dos blocos temáticos tratou justamente da questão do diálogo com os pentecostais e carismáticos católicos. Sublinhou-se o desafio da busca da convivência cotidiana e do exercício dialogal comum nas ações e lutas concretas a favor do povo.
As CEBs nunca tiveram a pretensão de uma abrangência massiva, mas sempre privilegiaram o trabalho comunitário, que é qualitativo e garantidor dos laços de fraternidade entre seus membros. O raio de envolvimento de sua presença pastoral foi sempre limitado, não atingindo mais que 9% da população local das dioceses animadas pela experiência comunitária. As formas de participação nas CEBs ocorrem de forma diferenciada. A grande força motora encontra-se nos núcleos de animadores e animadoras. Outra forma de pertencimento ocorre com os núcleos de participantes que se envolvem em uma ou mais de suas atividades. Há também os praticantes, ou seja, aqueles que reduzem sua participação às celebrações eucarísticas. São os núcleos dos animadores (as) e participantes que conferem maior visibilidade às CEBs, um núcleo que não ultrapassa 9% da população local. Um dos desafios enfrentados pelas CEBs, identificado com a pastoral de massas, consiste em buscar integrar de forma mais definida aqueles que se encontram distanciados do núcleo dinâmico das comunidades.
O acompanhamento dos encontros intereclesiais de CEBs permite situar o processo de construção da identidade eclesial das comunidades, o seu momento atual e as perspectivas vislumbradas. Embora não representem propriamente o cotidiano das experiências em curso, já que expressam o seu momento celebrativo e festivo, tais encontros propiciam acompanhar sua dinâmica eclesial e as tendências presentes e em curso. A experiência dos encontros intereclesiais de CEBs nasceu no ano de 1975, visando uma maior articulação das comunidades espalhadas pelo Brasil. A experiência ganhou continuidade nos anos seguintes, expressando a riqueza e a vitalidade das comunidades. O X intereclesial aconteceu no ano de 2000, na cidade de Ilhéus (BA), congregando cerca de 3063 pessoas. O que se observa não é uma crise das CEBs, mas uma retomada de sua inserção social e eclesial a partir dos novos desafios que acompanham a entrada do novo milênio. Como indicou o cientista político e assessor das CEBs, Luiz Alberto Gómez de Souza, “as CEBs são vitais porque experimentais, ágeis e pluriformes”. Não constituem experiências fossilizadas ou engessadas, mas sempre antenadas e abertas aos novos horizontes. Para além das limitações de sua consciência real, elas se abrem para a consciência possível, indicando os repertórios inusitados e fundamentais para a vida da igreja no tempo atual.
O último intereclesial de Ilhéus foi um termômetro preciso do atual momento das CEBs, sinalizando as grandes questões que envolvem a experiência. A questão ecumênica e inter-religiosa vai se firmando em bases mais serenas, sinalizando uma dinâmica de acolhida da alteridade. A presença cada vez mais incisiva das religiões afro-brasileiras e da questão indígena tem provocado nas CEBs o desafio de uma reflexão alternativa sobre a inculturação. Esta vem compreendida não como mera adaptação, mas como interpretação criadora. Na dinâmica do encontro com tais tradições propicia-se uma reinterpretação do conteúdo do próprio cristianismo, favorecendo a emergência de um novo rosto de igreja. Uma nova sensibilidade macro-ecumênica tem motivado as CEBs a ampliar seus braços, de forma a poder abraçar mais intensamente a diversidade, reconhecendo-a como expressão da riqueza multiforme do Deus sempre maior. E na comunhão das diversidades a busca de um compromisso comum e mais decisivo em defesa da vida ameaçada.
O encontro de Ilhéus sinalizou igualmente a importância do aprofundamento da ministerialidade das CEBs. O sonho de uma igreja toda ministerial sempre acompanhou as comunidades, mas vem sendo cada vez mais acentuado nos últimos anos. Em contraponto com a tendência centralizadora vigente na igreja católica, as CEBs apontam teimosamente numa direção diversa, acreditando no sonho de uma igreja participativa e toda ministerial. A defesa deste quesito foi reforçada em Ilhéus pela palavra das mulheres, que sublinharam a necessidade de uma maior partilha e distribuição de poder na igreja, e de forma particular a sua presença nas várias instâncias de serviços e decisões. Relacionado à questão ministerial, emergiu também o tema do direito à eucaristia nas CEBs. Trata-se de um dos temas mais delicados, mas que vem sendo acentuado com vitalidade na experiência das comunidades brasileiras. As CEBs definem-se como comunidades celebrativas, mas encontram-se ainda privadas da possibilidade eucarística. Os dados estatísticos apontam um índice de 70% de celebrações dominicais sem padre nas comunidades do Brasil. Esta situação provoca uma séria questão para a teologia e a disciplina eclesiástica, como lembrou João Batista Libânio, outro assessor das CEBs: “o problema de aprofundar a questão do que significa a presença real eucarística nas celebrações sem ministros ordenados”. A experiência ministerial presente nas CEBs convoca a urgência de uma reflexão mais aprofundada sobre o protagonismo dos leigos e o campo de atuação e exercício dos novos ministérios não ordenados.
- A vocação missionária das CEBs
Em sua exortação apostólica Evangelii nuntiandi (1975), Paulo VI indicou que a evangelização constitui a vocação própria da igreja. Mas esta evangelização vem entendida como realidade “rica, complexa e dinâmica”, envolvendo uma série de elementos essenciais, entre os quais destacam-se o testemunho e o anúncio do Senhor Jesus. A razão de ser essencial da evangelização é a de “tornar nova a própria humanidade” (EN 18). É verdade que não se pode negligenciar o anúncio explícito, que tem prioridade permanente na dinâmica de evangelização. Mas como sublinha com razão o teólogo Jacques Dupuis, trata-se de uma prioridade de ordem de importância “lógica e ideal”, mas não necessariamente “temporal”, pois pode ocorrer uma “proclamação silenciosa”, mas igualmente valorosa e eficaz da Boa Nova, mediante a presença, a participação e a solidariedade que acompanham o compromisso do testemunho (EN 21). As comunidades eclesiais de base assumem como sua vocação específica o testemunho vivo em favor do Reino de Deus e de seus traços na história. Enfatizam os valores fundamentais da solidariedade e da acolhida ao outro, sobretudo daqueles mais pobres e excluídos. Vivem e partilham a alegria de conhecer e seguir Jesus Cristo. Não escondem a riqueza de um encontro que é fruto do amor. Entendem também que a verdadeira compreensão de Jesus passa pela abertura ao mistério do Reino de Deus e pela realização histórica da vontade do Pai. A proclamação de Jesus Cristo ganha nas CEBs um itinerário peculiar. Para as comunidades a proclamação se traduz pelo modo de vida, pelo testemunho, pelos atos e pelo diálogo com o diferente. E o testemunho fala muito mais forte, pois é resultado de uma caminhada de vida que busca em Jesus Cristo o seu horizonte e modelo: viver como ele, no meio dos outros, dos que sofrem e são excluídos, de buscar a realização de uma hospitalidade sagrada.
Neste início de milênio, as CEBs permanecem vivas e teimosas no seu sonho de um projeto de igreja mais consoante com o seguimento de Jesus e o horizonte do Reino de Deus, de uma igreja que faz a opção pela história e pelos excluídos desta história, de uma igreja solidária e acolhedora, de uma igreja testemunho. Os ventos eclesiásticos não são os mais favoráveis, mas as comunidades estão acostumadas a sobreviver nas situações mais difíceis e foram aprendendo na história as artimanhas que mantêm acesa a chama de sua esperança.
Bibliografia:
Faustino TEIXEIRA. A fé na vida. Um estudo teológico-pastoral sobre a experiência das comunidades eclesiais de base no Brasil. São Paulo: Loyola, 1987; Id. A gênese das CEBs no Brasil. São Paulo: Paulinas, 1988; Id. Os encontros intereclesiais de CEBs no Brasil. São Paulo: Paulinas, 1996; Carmen Cinira MACEDO. Tempo de gênesis. O povo das comunidades eclesiais de base. São Paulo: Brasiliense, 1986; Clodovis BOFF et alii. As comunidades de base em questão. São paulo: Paulinas, 1997; Pierre SANCHIS (Org.). Catolicismo: cotidiano e movimentos. São Paulo: Loyola, 1992.
Faustino Teixeira:
Nasceu em Juiz de Fora (MG-Brasil) em 1954. Teólogo leigo, formado em Filosofia, Ciência da Religião e Teologia. Doutorou-se em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, em 1985, com tese sobre as Comunidades Eclesiais de Base no Brasil. Retornou à mesma Universidade nos anos de 1997-1998 para o pós-doutorado, sob a orientação de Jacques Dupuis. Lecionou no Departamento de Teologia da PUC do Rio de Janeiro, entre os anos 1978-1982 e 1986-1992. Desde 1989 é professor adjunto de Teologia das Religiões no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. É também consultor do Instituto de Estudos da Religião ( ISER/Assessoria ) no Rio de Janeiro. Publicações, entre outras: A gênese das CEBs no Brasil (S. Paulo, 1988); A espiritualidade do seguimento (S.Paulo, 1994); Teologia das religiões: uma visão panorâmica (S. Paulo, 1995); Os encontros intereclesiais de CEBs no Brasil (S.Paulo, 1996).





 http://www.jubileubrasil.org.br/assembleia-popular.
http://www.jubileubrasil.org.br/assembleia-popular.