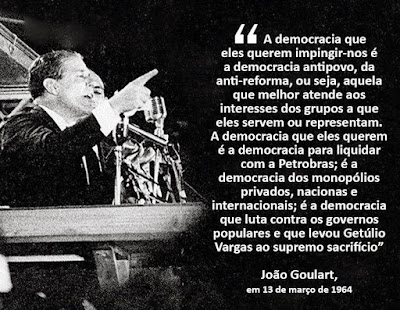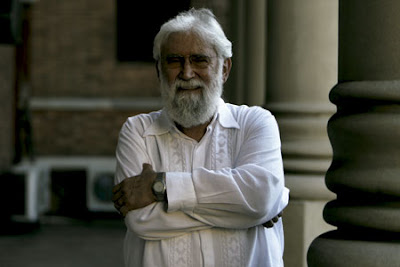A humanidade está passando pela mudança mais vasta, mais profunda e mais imprevisível de toda sua história na face da Terra. A diferença essencial em relação a todas as outras mudanças é que essa não se dá exclusivamente no seio das relações entre os seres humanos, mas nos próprios fundamentos da relação entre a civilização humana e o planeta no qual habita. O mito da inesgotabilidade dos bens naturais ruiu, mas a força inercial do modelo predador persiste.
O modelo civilizatório ocidental, alicerçado na exploração de seres humanos por outros seres humanos, e na intensa exploração da natureza por uma restrita elite mundial, já não tem mais sustentação. Dos 6,5 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra, apenas 1,7 bilhão pertence ao modo consumista e predador da civilização contemporânea. Para sustentar os caprichos dessa elite mundial são necessários 2,5 planetas Terra, para alguns, ou até seis planetas Terra, para outros.
Essa elite não está apenas no primeiro mundo, mas também tem seus nichos no segundo, terceiro e quarto mundos. Estender esse modelo de produção e consumo a todos os seres humanos é impossível pelos próprios limites desses bens em nosso planeta. Para sustentar esse modelo, pelo maior tempo possível para uma elite restrita, é preciso restringir o acesso dos demais a esses bens. O melhor mecanismo para selecionar os incluídos do modelo é aplicar as regras do mercado a todas as dimensões da existência. Quem puder comprar, entra. Quem não puder, está fora. Aqui está posta a primeira encruzilhada entre a eco-nomia e a eco-logia.
Fomos acostumados a olhar o futuro numa perspectiva de dias melhores. O próprio conceito de utopia, embora nunca realizável, sempre aponta para uma dinâmica que busca uma sociedade melhor que a do presente. Não fomos acostumados a olhar para a entropia, isto é, a decadência natural de tudo que existe. Entretanto, a física atual nos dá conta de que tudo tem seu começo, sua maturidade, seguida de sua decadência. O próprio princípio de Gaia, que compreende a Terra como um ser vivo, também entende que nosso planeta, se comparado com a vida de uma pessoa humana que vai chegar aos cem anos, já teria vivido oitenta. As ciências sociais não têm como princípio, sequer metodológico, estudar a humanidade na sua relação com um planeta já envelhecido, agora acossado pela extrema exploração humana.
Um novo ramo das ciências da Terra, particularmente a climatologia, nos obriga a compor um raciocínio holístico, de interface com as ciências sociais, incluindo as ciências econômicas, já que a civilização humana não pode ser pensada e entendida fora do planeta no qual ela se dá. Porém, se a própria Terra tem sua decadência natural, também a espécie humana teria que considerar sua história na Terra como temporária, fugaz, com prazo determinado. Portanto, quando será que a humanidade entrará inevitavelmente em decadência?
Do ponto de vista da suportabilidade do planeta, parece que chegamos ao limite, embora a técnica e a ciência abram novos caminhos todos os dias, particularmente agora, com o avanço da nanotecnologia. Talvez já estejamos próximos do ponto máximo suportável para Gaia, se não já estivermos em franca decadência. Em todo caso, 2050, quando nove bilhões de pessoas estiverem ocupando a face da Terra, o planeta atingirá o máximo de sua suportabilidade. Daí para frente, pelo menos em termos populacionais, não haverá mais como avançar sem comprometer a vida como um todo.
Entretanto, uma parcela de ambientalistas e cientistas atuais poderá dizer que a humanidade já atingiu o ponto máximo de sua ascensão, que já estamos num processo de decadência, dado que a humanidade atual consome ao menos 2,5 vezes mais do que o planeta pode suportar. Para alguns, o limite suportável para Gaia está entre um ou dois bilhões de pessoas. A novidade é que nosso raciocínio terá que considerar, desde já, os limites da Terra e os limites da humanidade. Portanto, o mito do paraíso terrestre, do progresso infinito, da história infinita, não encontra qualquer respaldo na realidade do nosso Planeta e da humanidade enquanto espécie. O Universo é devir, a Terra é devir, a humanidade é devir, com princípio, meio e fim.
Uma boa metáfora para compreender a sociedade mundial contemporânea é compará-la com um veículo em altíssima velocidade, com todos os seus confortos, que leva consigo apenas uma parte restrita da humanidade, deixando 70% à beira dos trilhos, porém, sem saber se à sua frente existe uma estação, uma paisagem bela ou a queda num abismo. A humanidade perdeu sua teleologia, isto é, seu rumo, seu norte, seu ponto de chegada. Os grandes sistemas que orientaram a humanidade – o sonho da “ordem e progresso” dos positivistas, o “paraíso terrestre” dos socialistas e comunistas, o “consumismo capitalista”, além da cristandade na Idade Média – já não respondem aos desafios contemporâneos. Restou o consumo imediatista de uma parcela restrita da humanidade. “Um outro Mundo é Possível”, mas não sabemos mais que mundo possível queremos.
A mudança se dá na tecnologia e na ciência, na sociedade humana, na subjetividade das pessoas e na natureza. A hegemonia é do imediato sobre o sensato, do consumo veloz sobre a sustentabilidade, do indivíduo sobre o coletivo ou comunitário, do privado sobre o público e do econômico sobre o ético, o político e o ambiental. Os que ficaram de fora têm o sonho, a necessidade, a maioria, mas não a força para defender e conquistar seus interesses.
A ciência e as tecnologias avançam numa velocidade estonteante, sobretudo no campo das comunicações, da informática, da genética, da nanotecnologia, fazendo com que o tempo se transforme num “breve século XX”, enquanto no mundo inteiro milhões de pessoas morrem cotidianamente de fome, de sede e de AIDs. A produção de alimentos aumenta e a fome também, mas agora competindo com a produção de agrocombustíveis. Por outro lado, como consequência, a biodiversidade se restringe, os solos se empobrecem, a disponibilidade de água em quantidade e qualidade diminui, assim como outros bens naturais. O próprio planeta reage com fúria e a gravidade de sua vingança já se tornou fato. Em tragédias como de Nova Orleans e Mianmar, os mortos são contabilizados às dezenas de milhares, ou mesmo a uma centena de milhar, como é o caso de Mianmar. A concepção de um planeta inesgotável caiu por terra diante da “consciência dos limites”. Entramos na “era dos limites”.
Como verso da mesma moeda surge uma nova consciência planetária, da solidariedade global, da irmanação dos povos, de “um outro mundo possível”, a busca desesperada por alternativas que salvem o modelo civilizatório construído, ou então, construam um novo modelo de sociedade. Também se inicia a busca de uma nova economia, descarbonizada, baseada em energias limpas, baixo consumo de matérias primas renováveis e não renováveis, que inclui no raciocínio econômico as chamadas externalidades, como consumo de energia, água, danos ao ambiente, à saúde humana etc. É o novo contexto de um modelo de desenvolvimento que se qualifica de “sustentável”, com todas as implicações que essa adjetivação comporta. Nesse momento, entretanto, há quem já questione até a expressão “desenvolvimento sustentável” e proponha uma “retirada sustentáveli”. Enfim, se a economia trilhou caminhos autônomos até nossos dias, considerando como externalidades os fatores ambientais – inclusive os sociais –, hoje já não terá mais como fugir da questão.
As instituições tradicionais perdem pertinência histórica, os Estados colocam-se a serviço do privado, as grandes transnacionais impõem a ditadura do mercado, os valores consagrados da humanidade são questionados, surge uma nova constelação de valores como caldo cultural que sustenta a subjetividade da sociedade do consumo imediato.
Como reação ressurge o “fenômeno indígena”, sobretudo nos países andinos e no norte do Brasil, onde as nações que tiveram sua história podada estão próximas de reencontrar o fio da meada.
As consequências dessas mudanças, portanto, são quase infinitas, os desdobramentos imprevisíveis, o destino da humanidade incerto. Enfim, o mundo que conhecemos está em mudança, radical, de qualidade. É o que se chama de “crise de paradigmas” (referências), “crise de sustentabilidade”, “crise civilizatória”.
Nessa “esquina da humanidade” surgiu um intenso dilema entre economia e ecologia. Ambas têm a mesma etimologia, isto é, “Oikos”, do grego, casa. Mais do que casa, lar, porque incorpora a dimensão subjetiva do bom relacionamento. Porém, se a eco-logia trata do cuidado com a casa – ciência que surgiu no século XIX, 1870, criada por Ernst Haeckel, para o qual “ecologia” era a “economia da natureza” – , a eco-nomia trata do “abastecimento da casa ou da cidadeii”. O conceito vem desde Aristóteles, mas tem seus fundamentos modernos em Adam Smith, século XVIII, que modifica seu conteúdo, já que estava preocupado em determinar como o interesse de cada indivíduo leva ao bem comumiii.
Na virada para o século XIX, Malthus e David Ricardo surgem como dois economistas que estabelecerão, ainda que de forma incipiente, laços indissolúveis entre economia e ecologia. Malthus vai afirmar que o crescimento populacional seria geométrico e o dos recursos seria aritmético. Ricardo vai estudar o esgotamento dos solos agrícolas – tanto em quantidade como em qualidade – diante da demanda maior por alimentos. A superprodução de alimentos com a Revolução Verde calou por determinado tempo essas teorias. Hoje a questão dos limites dos bens naturais, inclusive solos e água, é reposta em um novo patamar.
Na primeira metade do século XX, um químico, Frederick Soddy, começa a discutir economia, mas a partir da produção de energia. Para ele, só as plantas produzem energia, a partir do fluxo de energia solar, que pode ser gasta, mas não pode ser acumulada. Essa, para ele, é a verdadeira origem da riqueza. Nesse sentido, debateu e dissentiu de Keynes sobre a produção de riqueza a longo prazo. A partir da década de 1980, economistas como José Manuel Naredo, Roefie Hueting e Christian Leipert vão se debruçar especificamente sobre essa relação economia e ecologia.
Portanto, o abastecimento do lar depende da exploração da “casa comum”, isto é, da Terra. Esse é o conflito essencial dessa encruzilhada humana: temos como cuidar da casa comum e ao mesmo tempo explorá-la em benefício de todos os seres humanos? Qual é o limite dessa exploração? É nesse sentido que se fala em uma “economia ecológica”, ainda em construção. Ela envolve necessariamente outros paradigmas, que não estão postos nas ciências econômicas modernas.
O que se pretende aqui é levantar apenas alguns ângulos dessa mudança inédita que a humanidade já enfrenta e terá necessariamente que continuar enfrentando.
Futuro Humano na Terra: a espada do aquecimento global.
As contradições do modelo civilizatório estão nos seus próprios fundamentos. O modelo civilizatório hegemônico – muitas nações indígenas vão nos dizer que o problema é do modelo, afinal, suas economias consomem pouca energia e poucos recursos naturais –, embora tenha avançado na imaterialidade, na virtualidade, não modificou a exploração insustentável dos bens naturais. Ainda consome água, solos, energia e a biodiversidade de modo devastador. Além do mais, a sociedade do sobreconsumo produz lixo em excesso, contamina a água, erode os solos, emite gases na atmosfera, modificando o clima do planeta. Por isso, pela primeira vez, a humanidade toma consciência dos limites do planeta.
O divisor de águas dessa nova era da humanidade provavelmente terá sido a Rio-92. Ali se consolidou a percepção de que a mudança de paradigmas, já em gestação, era necessária, inevitável e incerta. A depredação dos bens naturais colocou a elite mundial numa encruzilhada: ou modifica os fundamentos predadores do modelo civilizatório, ou exclui grande parte da humanidade de seus benefícios, reservando para si os bens antes destinados a todos. Ainda mais, pode desequilibrar o próprio ambiente do planeta no qual habita, sendo a humanidade também vítima da mudança que provoca. Tem prevalecido a segunda opção. Entretanto, ela gera a contradição da exclusão de bilhões de pessoas do modelo, no máximo concedendo-lhes algumas migalhas para sua sobrevivência. Por isso, nada indica que as multidões excluídas irão aceitar passivamente sua condição. O mundo da violência, das migrações, do terror e a reação positiva dos movimentos sociais, indígenas, igrejas, intelectuais, humanistas, ecologistas, continuarão fazendo seu contraponto na história. As perspectivas são terríveis, os cenários dantescos, mas a história não comporta absolutos. A elite mundial não faz sua história isolada do resto da humanidade. Por isso, a luta pela terra, pela água, toda luta ambiental, vincula-se ao destino final da humanidade. Pensar os destinos do planeta é pensar os destinos da humanidade.
Tornou-se impossível falar do destino do ser humano e da Terra sem a interlocução com o cientista James Lovelock, o criador da teoria de Gaia. Segundo ela, a Terra comporta-se como um ser vivo, que autorregula sua própria temperatura. Teria sido assim durante toda a existência de nosso planeta, que teria aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Para esse cientista o futuro humano sobre a Terra, tal qual o conhecemos até hoje, está a poucos metros ou segundos da sua maior catástrofe, se compararmos a existência da Terra à vida de uma pessoa humana. O fator decisivo nesse futuro é o aquecimento global, causado pela concentração de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera. Para ele, diante do aquecimento global, todos os demais problemas da humanidade são irrelevantes. Segundo suas afirmações, a concentração de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera já alcança cerca de 360 ppm (parte por milhão).
Entretanto, se a emissão continuar no mesmo ritmo, em 40 anos atingirá 500 ppm. Quando, em sua modelagem de computador, a concentração de gases atingiu esse nível, as algas marinhas morreram. Então a temperatura, que subia gradualmente, passou a subir exponencialmente e de forma descontrolada. O resultado que surgiu na tela de seu computador foi um planeta tórrido, com vida apenas nos polos, onde sobreviveriam cerca de um bilhão de pessoas. O resto da humanidade e de outras formas de vida seria eliminado das demais regiões do planeta. Contestado, Lovelock diz torcer para que seus adversários estejam certos. Afirma ainda que, de fato, Gaia é extremamente complexa, quase que indecifrada, e que nenhuma modelagem de computador, por mais sofisticada que seja, pode aglutinar toda a complexidade do que ela seja. Portanto, todo resultado computadorizado tem que ser considerado de forma humilde pelos cientistas.
Entretanto, aqui está uma diferença crucial com relação às previsões do próprio IPCC, que embora também faça previsões trágicas, vê o aquecimento global de forma gradual. Lovelock afirma que outros cientistas, quando fizeram suas modelagens, não consideraram o fator das algas e sua importância para o sequestro de carbono e liberação de oxigênio.
A teoria de Lovelock é a mais revolucionária de todas as teorias. Para Protágoras, filósofo grego anterior a Sócrates, “o homem é a medida de todas as coisas”. O filósofo foi destronado por James Lovelock, já que Gaia é o fator decisivo e a medida de todas as coisas. Lovelock ainda retira de Darwin a centralidade da teoria da evolução das espécies para afirmar que, na verdade, o mais importante é a evolução de Gaia. Portanto, se a Terra era o centro do universo medieval, primeiro perdeu seu lugar para o sol, depois se descobriu apenas como um planeta periférico de uma galáxia periférica num universo que tem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, porém, agora revela que tem poder sobre todos que habitam sua face.
Na Terra, o ser humano, que já foi a medida de todas as coisas, descobre-se agora como parte de um processo maior, onde ele não é a medida de todas as coisas e sequer tem o comando do mundo em que vive. É a pá de cal na arrogância humana. Os Iluministas, em suas várias matizes, inclusive marxista, veem nesse momento da história a razão humana ser destronada pela evolução do conceito de Gaia. Portanto, seguindo a lógica férrea dessa concepção, Lovelock vai questionar inclusive a relação histórica da agricultura humana com Gaia.
Seguindo o raciocínio, a cobertura vegetal da Terra seria para garantir o metabolismo de Gaia, não para o ser humano destruir a vegetação e fazer da pele de Gaia apenas um espaço para produção de seus alimentos. Por isso, a humanidade já extrapolou o que lhe seria possível destruir em Gaia. Agora a produção de alimentos terá que buscar outras alternativas. Para ele, apenas uma restrita elite vai continuar consumindo alimentos naturais. O resto da humanidade terá que sobreviver de alimentos sintéticos, que dispensam o cultivo agrícola.
O raciocínio de Lovelock é ácido, dourado por um discurso polido, francamente primeiro-mundista, visando garantir o melhor dos mundos para o paraíso de uma restrita elite, que sobreviverá nas áreas habitáveis do planeta e com o melhor da tecnologia já inventada pelo ser humano. O resto da humanidade, aproximadamente 4 ou 5 bilhões de pessoas, ou pelo expurgo de Gaia, ou por uma política ostensiva de antifecundidade, seria inevitavelmente eliminada. Segundo ele, um a dois bilhões de pessoas é o que Gaia suportaria sem que haja prejuízo ao seu metabolismo.
Na questão energética, Lovelock é ainda mais surpreendente e enfático. Para ele aqui reside a questão decisiva, sem a qual todas as demais são inúteis. A única solução para a humanidade evitar que o CO2 atinja 500 ppm na atmosfera – então dispare o gatilho do aquecimento sem controle – é mudando radicalmente a matriz energética da civilização humana, já e agora, enquanto houver tempo. De pouco adiantam a eólica, solar e hidráulica e as outras fontes chamadas limpas, como os agrocombustíveis. Aliás, seria apenas uma forma a mais de superexplorar Gaia. A única fonte abundante é a nuclear que, segundo ele, oferece riscos mínimos. Inclusive, chega a dizer que se uma usina nuclear quiser colocar em seu quintal um tonel com resíduos radioativos, está convidada. Ele aproveitaria o calor como fonte de energia para sua casa. Segundo ele, o mito do perigo atômico se deu por conta das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Fora esses fatos, não haveria como provar que os resíduos atômicos tenham prejudicado a humanidade.
Talvez esse diagnóstico energético seja verdadeiro para os países frios do Norte. Não é a realidade para países tropicais, fartos de sol, vento e biomassa. Entretanto, o avanço, em todo o mundo, dos agrocombustíveis sobre solos aráveis e utilizados para produzir alimentos, antecipou o dilema entre a fome e os carros, entre saciar as pessoas e abastecer os tanques de combustíveis.
Lovelock tem sido criticado por militantes ambientalistas. A origem da crítica está na rebelião que ele e sua família fizeram ao descobrir que queriam pôr um moinho de vento para gerar energia perto de sua casa, no interior da Inglaterra. Ele acha feio, uma aberração, que modifica a única face original de Gaia em território inglês. Então, tornou-se um crítico da energia solar e eólica, ao menos enquanto elas não forem mais baratas e mais eficientes. Por essa razão também perdeu muitos amigos do campo ecologista. O fato concreto é que Lovelock em nenhum momento se põe como um crítico do consumo absurdo de energia, particularmente no seu primeiro mundo. Ele prefere mudar radicalmente o padrão energético, para não modificar o padrão de consumo. Para ele, modificar este último, agora, seria inútil.
Enquanto debatemos o neoliberalismo, o eco-socialismo, o desenvolvimento sustentável, Lovelock simplesmente propõe a “retirada sustentável”, a mudança radical da matriz energética para a nuclear, o consumo de alimentos sintéticos e a inevitável eliminação da maior parte da humanidade como única solução para salvar Gaia, da qual somos apenas filhos humílimos. Não se trata apenas de referendar, negar, ou criticar Lovelock. Ele traz para a humanidade uma realidade assombrosa e modifica os parâmetros básicos da civilização humana, caso ela queira continuar existindo. Diante de propostas tão assombrosas, o terrível desafio está posto.
Crise terminal do petróleo.
Nosso modelo civilizatório é chamado também de “civilização do petróleo”. Esse recurso natural, formado pela decomposição de animais e vegetais, transformou-se na matéria prima essencial que sustenta o modelo civilizatório contemporâneo. O petróleo está presente em nossas vidas no combustível e em todos seus derivados, numa multiplicidade contabilizada às centenas.
Entretanto, esse recurso natural, que levou alguns milhões de anos para se formar, está sendo esgotado em pouco mais de um século. Pouco importa se teremos petróleo ainda por vinte ou trinta anos. O fato é que caminhamos rapidamente para sua inviabilidade enquanto matéria prima que sustenta a civilização contemporânea. As guerras que aconteceram no último século pelo petróleo apenas confirmam sua importância no modelo em que a civilização foi construída. As últimas reservas estão sendo disputadas em todos os terrenos – o diplomático, o econômico e o militar – e a guerra do Iraque serve de ilustração. A busca de uma única matéria prima para substituir o petróleo parece impossível. Terá que haver a diversificação, principalmente das matrizes energéticas.
Não há como pensar eco-nomia sem energia. A energia é o que move o mundo. Entretanto, aqui já se põe mais um dilema entre economia e ecologia. Na verdade, só as plantas, pelo processo da fotossíntese, têm o poder de captar a energia do sol e transformá-la em sua própria energia. Todos os demais seres dependem da energia gerada pelas plantas. Na verdade, os vegetais são os únicos capazes de produzir sua própria energia, seu capital. Os demais dependem de bens que já estejam disponíveis na natureza. Muitos desses bens podem ser utilizados renovadamente, como a água. Outros não se renovam, como o petróleo. Portanto, ao esgotarem-se os estoques já produzidos pela natureza, não há mais como contar com essa fonte energética. Além do mais, sua intensa utilização, extraindo do subsolo e queimando em forma de combustível, gerou uma intensa injeção de CO2 na atmosfera, contribuindo de forma decisiva para o aquecimento global agora em processo. A economia ecológica busca estabelecer a congruência entre termodinâmica, economia e ecologiaiv.
É nesse sentido que o Brasil já entra no novo cenário mundial. E tenta arrastar consigo vários países da América Latina e da África. Primeiro porque o país tem ainda boas reservas de petróleo, que podem permitir uma transição mais suave de sua economia para novos modelos, embora a substituição geral do petróleo implique em centenas de outras demandas além das energias líquidas. Entretanto, assegurando nossas reservas de petróleo para os interesses dos brasileiros, ou entregando as últimas reservas para o capital internacional, o Brasil também terá que passar pelo ocaso da civilização do petróleo, para outra ainda a ser inventada. Nossos antepassados viveram sem o petróleo.
Nessa reinvenção de novos fundamentos civilizatórios no campo da energia, mais uma vez o horizonte se abre para o Brasil de forma paradoxal. Já chega ao cotidiano dos trabalhadores rurais brasileiros, inclusive de pequenos agricultores do Nordeste, ou nas fazendas de cana, a produção brasileira de agrocombustíveis, seja o álcool derivado da cana, seja o diesel de origem vegetal do dendê, mamona, soja etc. Entretanto, é preciso fazer uma leitura crítica do ufanismo que vem tomando conta da nação.
Em primeiro lugar há o problema ecológico. Ocupar solos, remover florestas, usar intensivamente água para produzir agrocombustíveis é uma opção que precisaria ser examinada e filtrada em seus mínimos detalhes. Em um país onde 70 milhões de pessoas vivem no limite da insegurança alimentar, levar a agricultura familiar, com seus parcos recursos e suas poucas terras – mas que põe a mesa do brasileiro – para a lógica da produção de combustíveis para os carros da elite mundial, é altamente criticável e pode descambar para uma aberração.
A perspectiva posta desde o início, contudo, é de que o Brasil mais uma vez entrará na história em situação subalterna e os pequenos produtores, subordinados ao capital empresarial. Já há acordos brasileiros com outros países para exportação dos agrocombustíveis. Ao mesmo tempo, empresas europeias já se consorciaram com empresas brasileiras do ramo sucroalcooleiro para produção de açúcar e álcool. Enfim, essa transição que está apenas dando seu primeiro passo, implica em possibilidades, perigos e mudanças que exigem visão de história, audácia e criatividade. A única exigência intransponível da crise do petróleo é que teremos que passar por ela.
Aqui se põe mais uma inflexão na relação economia e ecologia. Para uma economia regida pelas leis do mercado, segundo as preferências dos consumidores, o destino das terras será determinado pelo mercado, seja para produzir alimentos, seja para produzir agrocombustíveis. Porém, numa economia ecológica e humana, entra outro fator, que é abastecer a família humana com os alimentos necessários, além de preservar bens naturais como solos, água e biodiversidade. Se depender das regras do mercado, já sabemos por antecipação qual será o resultado.
A questão dos solos.
Segundo o documento WEHABv, distribuído pela ONU em Johannesburgo durante a Cúpula Mundial do Meio Ambiente em 2002, a humanidade possui hoje aproximadamente 1,5 bilhão de hectares agricultáveis para alimentar 6,5 bilhões de pessoas que habitam a face da Terra. Se essas terras fossem distribuídas equitativamente a cada habitante, haveria uma disponibilidade média de 0,23 por habitante. Como a projeção populacional para 2050 é de nove bilhões de habitantes, então a disponibilidade média por pessoa tende a cair. Se a população se estabilizar em nove bilhões, então teremos uma disponibilidade média em 2050 de 0,15 hectare por pessoa.
O agravamento não se encerra aqui. Não existem mais grandes extensões de solos a serem ocupados, exceto na América Latina. Europa, África, Ásia e América do Norte já têm a maior parte de seus solos agricultáveis ocupados. O uso intenso dos solos, sem cuidados de preservação, faz com que solos já utilizados estejam passando pelo processo de esgotamento, quando não de desertificação, em grande parte de forma irreversívelvi. Segundo o documento da ONU, produzir alimentos para saciar a fome de toda a humanidade no mesmo espaço, talvez até com mais reduções, se constitui num desafio de sustentabilidade. O drama de países pequenos, superpovoados, com pouca disponibilidade de solos, a exemplo daqueles da América Central e da África, tende a se agravar.
Nessa questão também se coloca um problema, não pontual, mas de fundo: o modo de usar os solos, de produzir e distribuir os alimentos em determinada população. A realidade hoje já existente, em que um bilhão de pessoas passam fome todos os dias, tenderá a crescer se esse desafio não for reequacionado. Em consequência, temáticas como da “segurança alimentar”, “direito humano à alimentação”, “soberania alimentar”, “transgenia”, se colocam em diálogo direto com a sustentabilidade dos solos, da água e da erosão da biodiversidade. É o maior dilema entre ecologia e economia já enfrentado pela humanidade. Afinal, como produzir alimentos para nove bilhões de pessoas sem ferir a Terra que habitamos? Agora, a disputa dos solos para produzir agrocombustíveis agrava a produção de alimentos.
Questões como uso de solos, água, aquecimento global etc. foram até agora considerados “externalidades” pelo mundo das ciências econômicas. Não entram na contabilidade. Hoje, porém, como considerar externalidades elementos tão essenciais ao mundo da produção, inclusive de alimentos, energia da qual depende toda a humanidade? Talvez aqui, nas políticas de produção de alimentos, de preservação da água e dos solos esteja um ponto de engate absolutamente intransponível entre ecologia e economia. Hoje é necessário falar em “pegada ecológica”; “fluxo de energia”; “água virtual”, “energia embutida” etc., antes consideradas externalidades, hoje conceitos fundamentais em uma economia ecológica.
O Brasil teria cerca de 360 milhões de hectares de terras cadastradas, em tese agricultáveis. Se essas terras forem mesmo agricultáveis, então a média disponível por pessoa no Brasil é de 2,11 hectares, isto é, dez a onze vezes mais que a média mundial. É óbvio que esse é um exercício matemático simples, mas suficiente para nos dar a dimensão da riqueza de solos que temos.
Entretanto, o modo de usar nossos solos em nada difere daquele dos países mais predadores. A civilização brasileira nasceu escravagista e sob o signo extrativista da depredação dos bens naturais: pau-brasil, ouro, borracha, ciclo do gado, do café, da cana de açúcar, assim por diante. Até esse momento, nada indica que teremos doravante um uso qualitativamente diferente da forma como foi até hoje. Aqui se coloca nossa primeira inflexão: que força têm os excluídos e marginalizados da terra para modificar a concentração da terra e o modelo agrícola que temos?
Erosão da biodiversidade.
“Há alguns anos calculava-se que o reino animal compreendia algo entre 2 e 8 milhões de espécies, das quais apenas 1,4 milhão já haviam sido descritas pela ciência. Estudos mais recentes indicam que estes números são na realidade muito maiores, podendo variar entre 30 e 50 milhões de espécies ou mais. Para os vegetais superiores, novos cálculos também apontam um crescimento de 260 mil para algo em torno de 500 mil espécies estimadas no planeta”vii.
Essa megadiversidade de formas de vida, a esmagadora maioria sequer descrita pela ciência, desaparece aceleradamente a cada minuto que passa. Esse processo biocida desencadeado pela ação humana não tem qualquer precedente nos 4,5 bilhões de anos de nosso planeta. O processo destrutivo é de tal monta que, do ponto de vista das eras geológicas, pode ser comparado a um simples estalar de dedos.
Hoje a Teoria de Gaia tem grande aceitação entre os cientistas. Lançada por Lovelockviii, essa teoria propõe que o planeta se comporta como um fantástico ser vivo, onde as partes vivas (plantas, microorganismos e animais) interagem com as não vivas (rochas, oceanos e atmosfera) de forma permanente. A esfera da vida (biosfera) não existiria sem as demais esferas, isto é, litosfera, hidrosfera, atmosfera, a luz e o calor irradiados pelo sol. Os primeiros registros de vida sobre a Terra têm mais de 3,5 bilhões de anosix.
Portanto, não se trata apenas de estabelecer os vínculos entre os seres vivos, mas também dos vivos com os não vivos. É verdade que a vida tem um poder quase que inesgotável de se refazer, mas também é de aceitação científica que a vida prossegue, mas as espécies têm seu prazo de duração, isto é, surgem e se extinguem ao longo das eras geológicas, até que todas as condições de vida na Terra se extinguam e a vida se extingua de vez.
A espécie humana foi uma das últimas a chegar. O surgimento do ser humano no contexto das eras geológicas parece insignificante. O Homo habilis (dotado de habilidade) surgiu há apenas 2 milhões de anos e o Homo Sapiens Sapiens (o homem que sabe que sabe) surgiu há apenas 50 mil anosx. Foi necessário que o planeta se preparasse como um útero para agasalhar a vida humana. Entretanto, essa espécie é diferente, exatamente porque pensa. A razão posta a serviço da destruição modifica os processos da vida, sua extinção e reconstituição. É a ação humana que promove a eliminação de tantas espécies em tão curto espaço de tempo.
“É recente o despertar do interesse econômico pela biodiversidade. Os avanços verificados nos últimos anos nas chamadas biotecnologias e na engenharia genética abriram vastas possibilidades para a exploração em escala industrial mundial das substâncias, princípios ativos e, principalmente, informações genéticas, contidas nas milhares de espécies existentes… Estima-se que 75% das drogas derivadas de plantas em utilização no mundo, movimentando um mercado de aproximadamente US$ 43 bilhões, foram descobertas a partir da indicação de populações tradicionais”xi.
Portanto, a biodiversidade é também uma questão econômica, social e política. Ainda mais, é profundamente medicinal. Se 75% das drogas derivam da sabedoria popular, é preciso dizer também que 75% dos fármacos têm base natural. Portanto, ao destruir a biodiversidade, o ser humano está também cada vez mais indefeso diante de possíveis doenças.
Destruir a biodiversidade para promover monocultivos pode ser de pouca inteligência econômica. Mais uma vez o Brasil – assim como outros países da América Latina – surge de forma privilegiada no âmbito da natureza. Possui uma das maiores biodiversidades do planeta. Fala-se que detemos cerca de 20% da biodiversidade planetária, embora esses números sejam ilações, exatamente porque pouco da biodiversidade planetária já foi descrita pelos cientistas.
“Grande parte da diversidade biológica do planeta, entre 60 e 70%, encontra-se em um reduzido número de países, os denominados “territórios de megadiversidade”. São eles: Brasil, Colômbia, Equador, Peru, México, Zaire, Madagascar, Austrália, China, Índia, Indonésia e Malásia”xii.
Portanto, nesse processo civilizatório insustentável, o Brasil aparece como aquele que possui simultaneamente solos, água, sol e biodiversidade em abundância. O que acontece com os biomas brasileiros – Pantanal, Pampa, Cerrado, Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica – dispensa qualquer comentário. A reação da sociedade civil é grande e a ação dos ambientalistas está em todo o território nacional, quase sempre ligada a ações internacionais. Legislações, convenções internacionais, programas e ações governamentais para modificar a qualidade de nosso desenvolvimento também existem. A criação do Ministério do Meio Ambiente foi um salto de qualidade que vem tendo seus desdobramentos. Entretanto, se o modelo de desenvolvimento não for modificado em sua essência, nada impedirá a destruição contínua da biodiversidade. Não há modelo matemático capaz de calcular em termos econômicos – muito menos em termos de importância para a vida – o que significa toda essa riqueza. O que o povo brasileiro, e principalmente nossas elites políticas e econômicas irão fazer com esse potencial é a grande incógnita desse princípio de milênio.
Mudança de valores.
A crise civilizatória não agride apenas a natureza, mas o próprio ser humano, seja na sua subjetividade, seja em sociedade. O neoliberalismo é também uma mudança profunda de cultura e de valores. Vivemos a época da indiferença, da insensibilidade, da consciência sem culpa. Mas é o mundo onde avança também a consciência da equidade de gêneros, do respeito às diferenças sexuais, étnicas, culturais, o direito das minorias e assim por diante.
Na encíclica pastoral “Caridade na Verdade”, o papa Bento XVI aborda a questão social e ecológica atuais sob a luz do “desenvolvimento integral”, retomando o conceito de Paulo VI. Para ele não existem dúvidas de que a forma como o ser humano trata a natureza é a mesma forma como trata a si mesmo (n. 51). Dessa forma, o Papa estabelece um vínculo indissolúvel entre a questão ecológica e o mais profundo da subjetividade humana. Nesse sentido, o desenvolvimento inclui “todas as pessoas e a pessoa toda”. Portanto, não está restrito ao aumento da produção de bens materiais. Não se nega essa necessidade, mas não se restringe a ela. Por isso, faz-se necessário observar como a crise ecológica é, em última instância, uma crise de valores.
No âmbito do pensamento hegemônico atual, a solidariedade é permitida, mas fora da moldura maior da “justiça”, isto é, desde que não questione os mecanismos de acumulação, exclusão e depredação que tornam a sociedade contemporânea quase que biocida e maniqueísta. A multiplicação de programas assistenciais que varre o mundo, inclusive o Brasil, revela no fundo uma consciência pesada, que sabe de suas estruturas e práticas fundantes, que se recusa em mudá-las, mas busca mecanismos de compensação que aliviem o peso das injustiças que recaem sobre os pobres e também a consciência daqueles que estão incluídos no projeto dos dominantes.
Não se trata de negar a boa vontade daqueles que estão empenhados nesses programas. Quem de nós não está? Mas não podemos nos contentar com essas práticas. Nessa “longa noite escura do neoliberalismo”xiii, é o que nos resta, tantas vezes. O desafio é incluir nossa boa vontade, nossa solidariedade em busca de um mundo baseado na justiça, não em mecanismos de compensação de injustiças estruturadas e institucionalizadas.
Na encíclica essa questão é posta como crucial. Para Bento XVI, a caridade é ir além da justiça. A justiça nem deveria ser posta em dúvida pelos cristãos. É pressuposto. O desafio é dar de si, daquilo que é próprio, generosamente, não negar o que é do outro.
Uma das características dos tempos neoliberais é a mudança na legislação. As reformas da previdência, trabalhista, a criação das agências reguladoras, a autonomia do Banco Central, além da nova legislação da água – e tantas outras – não têm outro objetivo a não ser tornar legal a ação do capital, mesmo que seja agressiva ao ser humano e ao meio ambiente. No espírito dessa legislação está a alma do capital.
Mas essas mudanças culturais e de valores têm na grande mídia seu veículo principal. A ideologia contemporânea do individualismo permeia novelas, programas infantis, programas jornalísticos, além da mídia impressa. É um embate desigual, que entra pelas nossas casas pela tela de TV. Porém, inclusive na mídia o paradoxo acontece. Uma tela de TV, particularmente a Internet, abriu as portas e janelas do mundo para bilhões de pessoas em todo o planeta.
O individualismo é extremamente caro e predador. Ele exige a multiplicação do consumo. Não é por acaso que hoje o consumidor, o cliente, são figuras sociais mais importantes que as pessoas e os cidadãos. O carro individual, o apartamento individual, o objeto eletrônico individual, exige mais espaço, mais água, mais energia, mais matéria prima. Numa viagem pela Alemanha, ao entrar em Munique, a pastora luterana que me acompanhava anunciou: “40% das pessoas de Munique moram sozinhas. Isso faz com que o preço de um apartamento nessa cidade seja absolutamente caro”. Claro, cada apartamento exige sua rede de luz, de água, de saneamento, assim por diante.
Para alimentar a ciranda infinda do capital, a indústria criou a “obsolescência programada”, isto é, os bens são programados para durar apenas um determinado período e depois serem jogados no cesto do lixo. Essa prática exaure a natureza, não oferece tempo para que ela se recomponha e cria uma fabulosa montanha de lixo, que a natureza e a reciclagem não podem processar, sobretudo os não degradáveis. O resultado está nos aterros sanitários, quando não simples lixões, na contaminação dos rios e lençois freáticos, na poluição do ar e no aquecimento global.
Aqui, é evidente, entram também as contradições. Nada é monolítico. De qualquer forma, o próprio fato de a mídia defender e propor valores, de debater a questão ambiental, comercial e as guerras que varrem o planeta faz com que tenhamos informações que antes não tínhamos. A rede de computadores, os Fóruns Mundiais da Sociedade Civil permitiram que se criasse uma “consciência planetária”. Sem essas invenções tecnológicas não seria possível buscar “um outro mundo possível”. A globalização que queremos é justa e solidária. A Internet é o exemplo maior nessa batalha pela formação e informação, embora a exclusão digital no Brasil continue maior que a própria exclusão da escrita. Mais uma vez estabelece-se o contraditório, embora a hegemonia seja dos valores impostos pela cultura neoliberal.
Igrejas e religiões.
Talvez seja impossível entender a humanidade sem a alma religiosa do ser humano. Mas também não é possível ler a história humana sem nos depararmos com tantas guerras promovidas em nome de Deus, mas que ocultam interesses imediatos dos envolvidos.
Nessa emergência da consciência pessoal, individual, não raro individualista, também as grandes religiões sofrem suas consequências, particularmente na chamada civilização ocidental. O cristianismo, embora continue numericamente forte, passa pela dispersão dos “credos”. O Brasil é exemplar nesse contexto. A multiplicidade de Igrejas se faz cada vez com mais velocidade e facilidade. Não há mais vergonha em “ser crente”. Ao contrário, passou a ser motivo de autoafirmação. As grandes manifestações públicas dos evangélicos têm o claro objetivo de mostrar quantidade, poder e presença na sociedade brasileira. Eles controlam uma vasta rede de meios de comunicação, desde a impressa, passando pelo rádio e as TVs. Produzem CDs, livros, DVDs e montaram uma rede comercial de vulto, com produtos expostos nas redes de supermercados.
A reação católica também se dá pelo movimento de massas e pela presença mais ostensiva nos grandes meios de comunicação, inclusive a TV. Há hoje vários canais de televisão brasileiros que falam em nome da Igreja Católica, embora sejam privados e nenhum deles seja oficialmente da Igreja Católica. Estabeleceu-se uma competição entre as Igrejas, em que as regras do marketing são aplicadas aos meios religiosos numa clara busca de prosélitos, sucesso, dinheiro e poder.
A religião mais cotidiana, vivida nos meios populares, além de sofrer influência da religião virtual, passa por um certo desprestígio, sobretudo diante da hierarquia católica. As Comunidades Eclesiais de Base têm reclamado constantemente de “um certo abandono que vêm sofrendo por parte de seus pastores”. Mas elas existem, continuam ativas, como fermento na massa, não como massa.
Deve-se considerar ainda que a mudança de valores e de cultura agride também o âmago das religiões, principalmente os valores há milênios estabelecidos. A moral sexual – relações pré-matrimoniais, o próprio matrimônio, o uso de preservativos, o aborto etc – é questionada, assim como a condição da mulher diante da dominação masculina no âmbito das Igrejas e das religiões. Valores como solidariedade, desapego, simplicidade, missionaridade, compromisso, responsabilidade, humildade, sobretudo a justiça, estão desaparecidos até do vocabulário cotidiano da liturgia. O argumento de autoridade, baseado exclusivamente na autoridade formal, é muitas vezes questionado quando não acompanhado da autoridade moral que brota da vida vivida. Por outro lado, o relativismo moral adequado às conveniências pessoais é risco real. A perda de padrões coletivos pode levar a sociedade realmente à plena anomia.
Um dos fatores mais graves nas Igrejas é o “neoliberalismo religioso”. Os valores do sucesso, da fama, do individualismo agora permeiam determinados movimentos religiosos, trazendo para o âmbito da vivência pessoal e da liturgia um individualismo, um subjetivismo, um egocentrismo, quando não um aberto egoísmo, que se contrapõem a qualquer entendimento básico dos valores evangélicos da solidariedade, compromisso, desapego e, fundamentalmente, da justiça. Não raro, a mercantilização da fé levou ao que alguns biblistas chamam de “sacronegócio”xiv.
Num mundo cada vez mais plural, a pluralidade religiosa é inevitável. Porém, manter fidelidade aos fundamentos do evangelho no mundo contemporâneo do consumo irresponsável, do individualismo, da devastação da natureza e da exclusão das maiorias, é irrenunciável. Por outro lado, nesse mundo caótico, por mais criativo que seja o caos, estabelecer o respeito entre Igrejas e Religiões, inclusive buscando mais o que nos une que o que nos separa, é o grande desafio.
Perspectivas.
Não há certezas sobre o futuro da civilização humana, nem sobre como será uma economia que opere nos limites do planeta. É certo que os dilemas estão postos, muitas opções terão que ser feitas e essas mudanças terão que ocorrer objetiva e subjetivamente. Se insistir em caminhar em linha reta, a humanidade enfrentará problemas ecológicos drásticos, que terão inevitavelmente consequências econômicas. Muitos deles já estão presentes e são irreversíveis. Se ousar mudar, a civilização humana terá que ser outra em termos econômicos, seja na produção, seja na distribuição, seja no consumo. Esse nó górdio começa a ser desatado, mas só o futuro dirá exatamente para onde iremos.
Por Roberto Malvezzi (Gogó)
Bibliografia
MARTÍNEZ ALIER, Juan. Economia e Ecologia. Disponível em http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs. Acesso em 6 nov. 2009.
_______________________ (1984). L’ecologisme i L’economia: história d’unes relacions amagades. Barcelona, ed. 62.
_______________________ & SCHLUPMANN, Klaus. (1987). Ecological Economics. Oxford, Blackwell.
BENTO XVI, Papa (2009). Caridade na Verdade. Roma.
BOFF, Leonardo (2001). Saber cuidar. Petrópolis, Vozes.
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (2009). Mudanças Climáticas Provocadas pelo Aquecimento Global: Profecia da Terra. Brasília. Edições CNBB.
COSTA, Ayrton (1991). Introdução à ecologia das águas doces. Recife, Imprensa Universitária da UFRPE.
LOVELOCK, James (2006). A vingança de Gaia. Rio de Janeiro. Intrínseca.
MÉRICO, Luiz Fernando Krieger (2002). Introdução à economia ecológica. Blumenau, Edifurb.
NOVAES, Washington (2002). A década do impasse: da Rio-92 à Rio + 10. São Paulo, Estação Liberdade/Instituto Socioambiental, 2002.
PENTEADO, Hugo. Eco-Economia. Uma mudança de paradigma. Disponível em http://www.ecodebate.com.br. Acesso em 9 nov. 2009.
PORTO GONÇALVES, Carlos Walter (2006). Globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
REBOUÇAS, Aldo C. et al. (1999). Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. São Paulo, Escrituras.
i Ibidem.
ii ALIER, Juan Martínez. Economia e Ecologia.Disponível em http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs. Acesso em 6 nov. 2009.
iii Tiago Domingos. A Unificação entre Ecologia e Economia,
dos Conceitos Fundamentais à Aplicação Prática. Disponível http://www.administradores.com.br/artigos/economia_e_ecologia/22341/. Acesso em 6 nov. 2009.
iv Domingos, ibidem.
v WEHAB (Water, Energy, Health, Agricultural and Biodiversity): Grupo de Trabalho da ONU. Johannesburgo, 2002, durante a Cúpula Mundial do Meio Ambiente. http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/wehab_papers.html
vi MMA: PAN – Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca.
viiJoão Paulo Capobianco: Quantas Espécies Existem? http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/meioamb/biodiv/divbio/conven/index.htm
viii Aldo da Cunha Rebouças: Águas Doces no Brasil. Ed. Escrituras. 1999, pg. 4.
ix Idem, pg. 4 e 5.
x Idem, pg. 5.
xi João Paulo Capobianco, idem.
xii João Paulo Capobianco: Diversidade Biológica. Site idem.
xiii Pedro Casaldáliga. Texto divulgado pela Internet.
xiv Sandro Gallazi – Biblista do CEBI e da Comissão Pastoral da Terra. Palestra na Assembléia Nacional da CPT em Goiânia, de 13 a 17 de Abril de 2009.